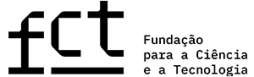23 MAR 2021, 18h30 | ONLINE
Rebecca
de Alfred Hitchcock
Estados Unidos da América, 1940, 130'
com a presença de Ricardo Vieira Lisboa
Rebecca, uma mulher sem nome e uma casa com nome de mulher
Ricardo Vieira Lisboa, programador na Casa do Cinema Manoel de Oliveira
O género cinematográfico do gótico surge, como quase todos os seus semelhantes, dos géneros literários. Os títulos tidos como fundadores do género, e que seriam depois infinitamente repetidos e modificados em inúmeras variações, são The Castle of Otranto (1764) – que definiu o ideal de castelo assombrado – e The Old English Baron (1778) de Clara Reeve – que delineou os arquétipos da jovem protagonista feminina.
No cinema houve múltiplas interpretações dos universos que esta literatura inspirou, em particular um conjunto de filmes produzidos nos anos 1940, nos estúdios de cinema norte-americanos (ao longo da década todos os estúdios produziram pelo menos um filme que se pode integrar neste conjunto), e que incluem títulos de realizadores como: Minnelli (Undercurrent), Joseph L. Mankiewicz (Dragonwyck), Cukor (Gaslight) Hitchcock (Rebecca, Suspicion, Shadow of a Doubt), Lang (The Secret Beyond the Door), Tourneur (Experiment Perilous), Siodmak (The Spiral Staircase), Welles (The Stranger), Sirk (Sleep My Love), Ophuls (Caught), Robert Stevenson (Jane Eyre), Wyler (Wuthering Heights), etc..
A investigadora Diane Waldman descreve sucintamente o género da seguinte forma: “Uma mulher jovem e inexperiente conhece um homem mais velho bonito por quem ela é, alternadamente, atraída e repelida. Depois de um namoro rápido (72 horas em The Secret Beyond the Door de Fritz Lang, sendo as duas semanas o mais típico), ela casa-se com ele. Depois de voltar para a mansão ancestral de um dos pares, a heroína experimenta uma série de incidentes bizarros e estranhos, abertos a interpretações ambíguas, que giram em torno da questão de saber se o homem gótico realmente a ama. Ela começa a suspeitar que ele pode ser um assassino.”
Este último aspecto reflete, aliás, a natureza dúplice de muitas narrativas góticas: uma ambiguidade sempre presente sobre a natureza da experiência da protagonista e nossa também, enquanto espectadores que acompanhamos o desenrolar da trama com e através dela. Isto é, sobre se aquilo que a protagonista interpreta resulta de uma dificuldade de comunicação ou de uma compreensão trocada da realidade, ou se, inversamente, essa experiência é propositadamente condicionada por uma figura maléfica que pretende levá-la à loucura.
Sobre Rebecca, não vos farei grande contextualização do filme dentro da obra de Hitchcock – e só isso encheria alguns parágrafos –, nem procurarei aprofundar muito na ação nem na relação cinema versus literatura. Pelo contrário, seguirei uma via estranha, mas típica dos amantes, que encontram no corpo desejado uma porção (um pormenor) que apreciam mais que tudo. Assim, destaco uma só sequência, aquela em que Fontaine e Olivier conversam e se dá a revelação sobre o “acidente”.
Enquanto a discussão se faz por temas conhecidos de ambos, os planos enquadram os dois em simultâneo, no mesmo quadro, frente a frente, ela de pé e ele sentado, ela no colo dele… Quando a confissão começa, a conversa passa a dar-se, em campos e contra-campos das faces dos dois – como se a partir daí já não pudessem estar as duas faces juntas no mesmo enquadramento. A separação, o súbito envelhecimento dela e a primeira vez em que ele se mostra vulnerável fazem-se por uma separação do casal também na, e através da, realização: will you look into my eyes and tell me that you love me now… Ela não sabe o que responder, levanta-se e aproxima-se da porta que a levará para longe da desgraça e do sofrimento, ele, miserabilista, massacra-se. Ela pára, a câmara começa um travelling atrás como já fizera quando ela ficara sozinha no quarto depois de aceitar o pedido de casamento, ou na primeira revelação com Frank da contabilidade ou na biblioteca entre os braços de Olivier. Mas em todos esses momentos a câmara recuava e enquadrava a mulher do topo da cabeça à ponta dos saltos, isolando-a, colocando-a em confronto com um espaço e com uma circunstância em que tudo trabalha contra ela.
Aqui, como dizia, a câmara recua sim, mas ela (há que lembrar que a personagem de Fontaine não tem primeiro nome), pela primeira vez, não fica estática, ela avança para a câmara, e para Maxim que está no fora de campo, atrás de nós. Ela não se deixa encolher face à pompa hitchcockiana, não se deixa enquadrar na solidão, avança e pela primeira vez mostra força para com tudo e todos: uma força que não é só narrativa, mas que é também extra-fílmica. Nesse momento ela salta do ecrã para lá dos quadros e dos movimentos de câmara, para lá dos plot points e para lá de toda a parafernália de ver e dar a ver o cinema. Ela avança e tudo fica para trás. E já lá vai… No it’s not to late, I love you more than any thing in the world. E depois aquela reação, como é capaz um rosto conter surpresa, terror, alegria, o riso e o nojo, tudo ali condensado num travelling à frente? Isto tudo num só plano, tudo em sequência, mise en scène da ligação e do afastamento e de novo da ligação e de novo do afastamento. Para que depois tudo volte ao lugar de partida, mas mais forte… Esta é, para mim, a expressão da liberdade do, e pelo, cinema. A liberdade que se encontra na romântica ruína reconstruída das relações.