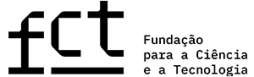13 ABR 2021, 18h30 | ONLINE
Messiah of Evil
de Willard Huyck e Gloria Katz
Estados Unidos da América, 1973, 90'
Antropofagia: fome e consumo em Point Dune
Beatriz Chagas, Mestrado em Cinema
Existem diferentes versões do mito de Erisícton pelo que, para efeitos de comodidade atentar-se-á na versão contada em A Sociedade Autofágica – Capitalismo, desmesura e autodestruição (2017), de Anselm Jappe. O mito de Erisícton reporta a um rei rico de Tessália que, movido por uma ambição desmedida pela megalomania, conduz ao seu próprio extermínio. Na versão de Jappe, consta que o rei Erisícton se atreveu a abater uma árvore sagrada, justificando-se com a necessidade da construção do seu palácio. Perante este delito, Deméter, deusa das colheitas, condenou-o à fome insaciável. Por consequência, Erisícton procede à eliminação progressiva dos elementos que reiteravam a sua soberania – consumindo os recursos naturais do seu reino, a força de trabalho e, por fim, o próprio corpo.
Vários são os investigadores que confirmaram a persistente atualidade e interesse deste mito, nomeadamente partindo da crítica marxista ao capitalismo e adicionando-lhe renovados pontos de vista, como é o caso de Jappe. Com efeito, mesmo que consideremos as sucessivas crises socio-económicas agentes de restituição da ordem prévia, à luz de novas configurações, a sociedade está em constante mudança – justificando-se assim os sucessivos mergulhos neste mesmo oceano difuso que parece ser a discussão da pertinência do mito.
Afinal, este gesto parece embeber os mitos de uma imunidade ancestral que perpetua a sua vitalidade até aos dias de hoje. O caso do filme Messiah of Evil (1973) é particularmente interessante por vários motivos, o primeiro de todos: ser um filme de horror passado na Califórnia dos prósperos anos 70, cujos momentos sugestivos de suspense captam, consecutivamente, elementos característicos da recém estabelecida sociedade de consumo. Se Jappe estabelece paralelismos com o mito de Erisícton, apontando para o capital enquanto relação-social que se alimenta insaciavelmente do crescente valor de tudo o que existe e pode ser convertido em mercadoria; Willard Huyck e Gloria Katz, escolhendo veicular uma mensagem (eventualmente) análoga através do cinema, selecionam detalhadamente os enquadramentos da câmara e respetiva tensão em função de referências do próprio contexto cultural popular. Dois bons exemplos são a estação de serviço capturada no início do filme, que desdobra parcialmente o perigo iminente de uma aproximação a Point Dune (onde decorre a ação); e as paredes do interior da casa do pai de Arletty, protagonista da ação que se desloca àquela localidade procurando o seu pai. Estes dois lugares parecem escolhas curiosas dado que, remetendo para a coleção fotográfica Twentysix Gasoline Stations (1963) do artista pop americano Ed Ruscha, e também para as suas pinturas de estações de serviço, em conjunto com uma arquitetura de luz e som que sublinham o ambiente de suspense, estendem a narrativa em dimensões psicológicas cuja ansiedade e o horror se revelam numa das esferas imagéticas americanas que rapidamente se tornou mundialmente familiar e relacionável: os lugares de consumo. Mais que isso, ao deslocar os então tornados ícones do contexto cultural da época para o interior da casa do pai de Arletty – que facilmente pressupomos ser um lugar de familiaridade – reparamos que o que os cineastas poderão ter querido fazer notar era, precisamente, a dimensão assombrosa que caracteriza a recorrente invasão do espaço familiar por parte dos mecanismos de incentivo ao consumo. Quando Arletty deambula pela casa, são várias as ocasiões ao longo do filme que parecem sugerir aquele espaço como um lugar de traumas que ocorreram e que virão a ocorrer. Mais que isso, Arletty tenta descodificar o desaparecimento do seu pai através dos testemunhos e das pinturas que este deixou na casa. Por esse mesmo motivo, julgo que importa atentar nas figuras humanas que estão desenhadas nas paredes do interior da casa (e que muito se assemelham pela técnica às serigrafias que tornaram Andy Warhol popular) pois parece haver algo de premonitório nas identidades retratadas. Diria que estas imagens, juntamente com as leituras do diário, são capazes de sugerir, pela suspeição que suscitam em Arletty, não só que o seu pai sabia que a catarse do evento culminaria naquele lugar, mas também que não havia alternativa por onde pudesse escapar. A profecia far-se-ia cumprir.
Do mesmo modo, o consumo desenfreado parece atestar a visão pessimista de que, quer destruamos a superfície da Terra, quer a nós mesmos em primeiro lugar, o nosso fim parece a única certeza. Curiosamente, a protagonista e o “colecionador de lendas” Thom, parecem resistir, ainda que de forma traumática, à iminência da antropofagia. Afigurando-se sujeitos ativos – assumem-se lugares em construção na medida em que não procuram restabelecer a ordem anterior, nem reiterar as mesmas formas de conhecimento; pelo contrário, aceitam a inevitabilidade desse desequilíbrio movendo-se pelo desejo de encontrar uma outra condição, necessariamente nova e futura. Claro está que não bastaram em número para evitar a propagação do canibalismo. Com efeito, Arletty acaba engolida por uma outra ferramenta sistémica – o internamento num hospício – cuja pertinência cabe ao espectador avaliar, não fosse Messiah of Evil um filme onde os limites da realidade e do pesadelo estão por desenhar.
1 Jappe A., A Sociedade Autofágica – Capitalismo, desmesura e autodestruição, Lisboa: Antígona, 2017.
2 Rolnik S., Guatarri F., Micropolítica: Cartografias do desejo, Petrópolis (Brasil): Editora Vozes, 12.ª Ed., 2011.