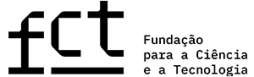equipa do Cineclube EA
2020/21
Benjamim Gomes
Diogo Pinto
Francisca Dores
João Pinto
Leonardo Polita
Luísa Alegre
Luiz Manso
Maria Miguel
Mariana Machado
Miguel Ribeiro
Miguel Mesquita
com o apoio de
Carlos Natálio
PROGRAMA
17 OUT 2022, 18h30 | AUDITÓRIO ILÍDIO PINHO
Sunrise: a Song of Two Humans
de F.W. Murnau
Estados-Unidos, 1927, 94'
Um homem do campo, seduzido por uma mulher da cidade, pensa em assassinar a sua esposa. Arrependido, é na cidade que vai reconquistar o amor da sua vida. Sunrise é considerado um dos mais belos filmes do mundo, um hino ao amor e à luz.
* Sessão seguida de conversa com Yohei Yamakado e João Pedro Amorim
Aurora
Yohei Yamakado
Há auroras que luzem mesmo depois do último dos homens. Há auroras que luzem mesmo depois da sombra de Veneza. Há auroras, tantas auroras, que roçam tantas superfícies, mais ou menos sensíveis, mais ou menos sensuais, como aquela retangular branca ligeiramente prateada.
Na sala de cinema mergulhada em negro, não longe dessas grandes cortinas suspensas, que deveriam ser decorativas e práticas, e que hoje pareceriam antes burocráticas, o narrador olha as cadeiras vermelhas, depois a superfície retangular branca ligeiramente prateada, antes de se meter a virar as páginas de A Sombra de Veneza. Detendo-se numa página, indiferentemente, murmura o seguinte: “Novella d’Andrea ensinava em Bologna (século XIV) ensinava por trás de uma cortina por causa da sua beleza.” Depois, olha de novo em frente, em direção à superfície branca ligeiramente prateada, com a delicadeza que poderíamos ter para olhar um recém-nascido.
Por entre todas essas auroras, aquela que ilumina a superfície retangular ligeiramente prateada esta noite — Aurora de Friedrich Wilhelm Murnau (1926, EUA) — é bem possível que se mostre bela, a saber muito bela, tocante, emocionante, comovente até, mas também divertida e alegre, da qual a composição é, à vez trágica e cómica, e nos recorda Opinião Pública (1923) de Charles Chaplin.
Aurora, nesse drama sem nomes, sem nomes próprios (a noite da tempestade, ao pé do lago, o homem parece gritar o nome da sua companheira naufragada, apesar de ser difícil compreender as palavras compostas), vê-se uma mulher e um homem. Eles vivem no campo, do qual a memória dos dias agradáveis de antigamente, hoje desaparecidos, é o sujeito principal dos intertítulos que se entrecruzam entre os domésticos ao pé da janela, muito conciso, sem qualquer modificação, tendo uma imagem filmada em movimento entre duas repetições. A mulher e o homem partem para a cidade, depois de uma série de acontecimentos que veremos, depois regressam a casa, acompanhados de toda outra série de acontecimentos que iremos também ver, enquanto que outra mulher vem da cidade, instala-se na aldeia do casal, essa aldeia certamente construída algures, mas nenhures — não seria exagerado relembrar o sentimento de nenhures que nos apanha nas últimas páginas de O Mar da Fertilidade de Yukio Mishima: “viemos de muito longe, a um lugar que parece nenhures”. Palavras, elas próprias, gravadas de forma inesquecível nas últimas páginas da Senhora Condessa de Shiguéhiko Hasumi — um décor sem nacionalidade precisa, ambíguo, desmesuradamente longínquo —, depois ela, a mulher dita da cidade vai-se, após o regresso do casal, quer dizer imediatamente antes da chegada do intertítulo-aurora, tendo o propósito de fugir, provavelmente de regressar à cidade, qualquer que fosse, em paróquia morta — como se esse veículo chegasse diretamente da Transilvânia, do terreno nefasto do Conde Orlok — virando-se para trás, assim olhando-nos com um olhar zangado, sempre vestido de negro, esse negro como a profundeza da noite que agora desaparecia.
Da outra vez na cidade levava um chapéu. A mulher casada com cabelos loiros leva por vezes um chapéu simples um pouco fora de moda, e a mulher da cidade vestida de negro usava sempre um, sempre negro, como se fosse algo evidente — e é sem dúvida o caso — sem dúvida não o mais luxuoso mas em todo o caso um modelo em voga, parece, enquanto que o homem não leva nenhum nem na aldeia nem na cidade, descuidado, frouxo talvez, como de resto todos os maridos do mundo, em algum momento, em algumas situações. Assim, apenas ele se mostra fora da mitologia da cidade moderna — George O’Brien, que será mais tarde em Howard Hawks, passo a passo, Adão e o Príncipe sem amor, mas sempre com um sorriso descuidado e um pouco frouxo — visualmente trata-se antes de tudo de um filme visual, mudo, apesar da música original —, do qual o chapéu era um dos signos mais representativos, os mais significantes não apenas quotidianos, citadinos, ou mundanos, mas também excessivamente cinematográficos: até a um certo momento, a cidade usava chapéu. Não era apenas uma paisagem imaginária, mas concreta. Não era apenas uma composição sonora, mas visual, ótica. Como nós sabemos os nossos contemporâneos, do ponto de vista contemporâneo de hoje, o que quer que isso devesse fazer parte de signos recebidos dessa época aos olhos dos seus contemporâneos, o chapéu, enquanto objeto, e quanto imagem, tinha esse poder de tocar tanto o desejo da cidade moderna, tanto o nascimento modernizado e modernizante da tragédia e da comédia, tanto a vontade de movimentos entre a cidade e o campo, e finalmente as trocas entre os dois sexos — os homens e as mulheres (ver por exemplo Dragnet Girl de Yasujiro Ozu, 1933; os filmes de Jean-Luc Godard onde se viam chapéus, homens e mulheres — há muitos). O que é verdadeiramente belo em Aurora de Friedrich Wilhelm Murnau é justamente ver como os dois sexos se movem, trocam de lugar: ver a crueldade de dever ocupar o lugar do outro (A mulher senta-se na cadeira vazia do esposo, o homem senta-se no leito vazio da esposa). Depois, o chapéu desapareceu pouco a pouco ao longo das décadas, no ecrã, como na sociedade, seguindo o desenvolvimento ou a decadência do cinema falado.
Mal nos lembramos do jovem que fala do cinema de Friedrich Wilhelm Murnau num restaurante da Estação de Lyon — cidade e campo, dia e noite, etc. — assim como do sabor gastronómico — é necessário que esteja morno — não se vê nenhum chapéu que poderia envolver a sua cabeça (nem a cabeça da sua amiga e interlocutora), muito moderna, cheia de ideias, de citações, de palavras de autores, enquanto que num quadro muito belo que segue imediatamente a seguir, simplesmente são mostradas as paisagens noturnas parisienses naquele momento; naquele campo-contracampo, que a bem dizer não é verdadeiramente campo contra campo, há algo que nos parece surpreendente, e que nos lança num pensamento de que há algo de decisivo que se passou, que não voltará. A cidade moderna não usa chapéu, apesar de a noite parecer cada vez mais profunda.
Um elétrico avança sobre uma clareira, numa floresta na margem de um lago, onde uma cena desoladora acaba de acontecer entre a mulher e o homem, apesar de tudo isso, ele dirige-se à cidade, docemente. Essa velocidade extremamente lisa não saberia outra coisa que ser admirável, ou percebida como admiravelmente filmada, em todo o caso ela não tem nada que ver com a “rapidez terrível” do barco pestilento, a “falsa versão” de Nosferatu (ou como uma espécie de trailer da versão original, como dizia B. Eisenschitz) que não é verdadeiramente uma rapidez terrível, nem com aquela rapidez verdadeiramente terrível do barco que se distancia, que separa para sempre os dois amantes ao largo do Oceano Pacífico, o fim de Tabu.
O elétrico em movimento segue uma espécie de curva ligeira contínua, o que faz com que a viatura no sentido de marcha se oriente ligeiramente para a esquerda, e que à direita se mostrem as clareiras, uma pequena parte do lago, assim como em frente ao reflexo na janela, do qual uma certa brutalidade luminosa nos recorda de longe as paisagens montanhosas vistas no autocarro do Senhor Obrigado (Hiroshi Shimizu, 1936, Japão) através da janela, numa luz natural delicada, lá, sempre no elétrico que vai para a cidade, encontrando-se a mulher com os cabelos loiros e o homem com sorrisos descuidados. Depois, sempre à direita, sempre nesse movimento ligeiramente curvado, manifesta-se um ciclista, ou melhor, um homem numa bicicleta, de costas para nós, ou seja, a avançar no mesmo sentido que o comboio, no mesmo sentido que a câmara. Nesse ligeiro deslocamento não eletrónico, há algo de frágil, de precioso, tão precioso que teríamos a coragem de dizer que se tratava de um Dia de festa.
O dia de festa — mais tarde a mulher e o homem uma vez reconciliados, quando dançam juntos uma melodia de A dança camponesa (o charme do desejo libertado de uma mulher é quase tão explosivo como inesquecível, que acreditamos receber plenamente Janet Gayner ela própria), ao lado vê-se um Senhor que tenta segurar o vestido de uma Senhora, que não pára de cair, evitando tocar diretamente a pele daquela, muito púdico, cortês até, como o Senhor Hulot na festa de fantasia.
Na cidade, por vezes, talvez quanto mais se passeia, mais se tem o sentimento de se perder, de querer regressar a um tal lugar: por exemplo, esse lugar que se conhece, que se crê conhecer: o da infância. É por isso, provavelmente, nessa travessia de florestas através da cidade, nessas paisagens sobrepostas, apesar da sua aparência ligeira, ingénua e quase inocente, que se faz ouvir uma espécie de dissonância ligeira; há qualquer coisa de inquietante, de desequilibrado, de quase delirante nas imagens sobrepostas, tão delirantes como as que envolviam o entorno aureolado do Sargento York na sua aldeia natal. Enquanto a mulher e o homem atravessam a rua na cidade, desde logo envolvidos pelo rebanho de viaturas modernas, eles detêm-se, espantados. Crer-se-ia reconhecer este lugar; foi ali que um Charlot errava em busca da luz das cidades, foi ali que um certo nobre falso von Stroheim escondia o seu sorriso maléfico cheio de desejos, foi ali que uma Lilian Gish permanecia a olhar as flores partidas, foi ali onde o assalto da avenida ressoava mesmo ao lado, e mais tarde, foi ali onde, através de diferentes ângulos espantosamente compostos, rasgam-se Os Verdes Anos lisboetas, ver aqueles de toda uma época europeia, mas também mundial, e, enfim, foi ali que brilhou Le Haut signe — esse diário que se usa infinitamente, esses bailes que não atingem o alvo senão involuntariamente. E então deveríamos entender que não era nada, que um encontro com Mefistófeles num cruzamento já havia sido filmado pelo mesmo realizador, na Alemanha em 1926. Esse recanto animado por movimento, contínuo, essa Parada, por assim dizer, em todos os casos, é seguramente um dos aspetos mais marcantes da invenção da mediocridade da sociedade moderna que provavelmente inaugurou em França durante o segundo Império, e que é seguramente um dos últimos momentos da infância do cinema.
Se esta Aurora muda — seria necessário observar que todas as auroras são profundamente mudas — luz de maneira singular e iminente, à imagem do poeta que se cala, que não fala em frente da narradora de Hölder, de Hölderlin, acompanhada portanto de uma música originalmente escrita, isso seria porque, não por causa do cartão branco pintado que pode nos surpreender no final, não por causa da história amorosa provavelmente muito emocionante — tudo como gostaríamos, dizemos, por si — essa narração moral ou moralizante como frequentemente é o caso se não quase sempre no realizador, herdeiro — segundo um certo João de Deus — do romantismo alemão, a propósito de peças de Molière (Tartufo, 1925), mas não por causa de tudo isso, enfim isso seria porque essa Aurora, singular e iminente, se impregna do poder e do charme de se projetar, grande e efémera, de projetar o mais efémero dos instantes, que possui um ilustre passado: as palavras e as cores que nos são ainda desconhecidas.
Um marinheiro, membro do barco de pesca de um certo Mike Mascarenhas — crê-se de resto ter ouvido o seu nome: um certo João de Deus —, no seu belo artigo sobre Aurora que começa com a frase seguinte: “A aurora é o anúncio do dia libertado do ventre nefasto da noite que o engendrou (...)”; dizia que essa Aurora é talvez a mais bela de todos os tempos: a fórmula que será uma das ideias cinematográficas ou antes cinéfilas recebidas mais frequentes que, desta vez, se casa espantosamente bem com a opinião pública, o que parece longe de ser sempre o caso — porquê ? — porque ela é talvez verdadeira (talvez não) simplesmente, ou sobretudo talvez porque ela é gramaticalmente simples de dizer. Mas finalmente, muito pouco importa, porque antes e depois de tudo Aurora é uma figura plural transitória de transições (entre o dia e a noite, entre a aldeia e a cidade, entre os homens e as mulheres) por excelência, e que há tantas auroras que ainda não brilharam, finalmente o fim — depois mesmo desse fim em intertítulo branco pintado surpreendente —, é o ecrã que não é mais que uma superfície, uma superfície retangular branca ligeiramente prateada.
Em Aurora, para além do génio da iluminação e da composição espacial já confirmada nos seus filmes precedentes produzidos na Alemanha, através da découpage e dessas continuidades mais convencionais e mais funcionais talvez, mais eficazes e sobretudo fluídas, devidas certamente à natureza da produção que era desta vez americana, sente-se bem que a arte de Friedrich Wilhelm Murnau se renova; que o realizador não se deixa mais exprimir artisticamente, em todo o caso seguramente menos que antes. Assim, o seu cinema parece reencontrar ou obter de novo alguma coisa de essencial, que talvez lhe faltasse até àquele momento, profundamente até, em nome de um certo lirismo, ou de um certo expressionismo, ou em nome de tudo aquilo que se quer, de tudo aquilo que ele queria: movimento.
Agora, aparecem a repetição e a diferenciação. Há também elementos que regressam (como esse Senhor Cabeleireiro de traços finos, que parecia já fazer parte dos homens petroleiros em A Terra Treme ou desses aristocráticos em Fantasma). “Entre aquelas que vi”, diz o narrador entre Aurora e A Sombra de Veneza, aguardando auroras que ainda não brilharam: “Vi três animais negros: dois porcos e uma vaca. O porco negro na cidade em Aurora, um outro em Tabu, e uma vaca negra em Passeio de Noite. Aqui, diria que, quando os protagonistas se deslocam, chegam a um lugar, há sempre — não sei dizer se sempre, e de resto talvez nem sempre — frequentemente, há frequentemente um animal negro. — Há também outras vacas em Aurora, não é verdade? quando os domésticos se lembram do passado feliz. — Ah, é verdade. Mas elas não são negras, creio”.
PROGRAMA
17 OUT 2022, 18h30 | AUDITÓRIO ILÍDIO PINHO
Sunrise: a Song of Two Humans
de F.W. Murnau
Estados-Unidos, 1927, 94'
Um homem do campo, seduzido por uma mulher da cidade, pensa em assassinar a sua esposa. Arrependido, é na cidade que vai reconquistar o amor da sua vida. Sunrise é considerado um dos mais belos filmes do mundo, um hino ao amor e à luz.
* Sessão seguida de conversa com Yohei Yamakado e João Pedro Amorim
PROGRAMA
17 OUT 2022, 18h30 | AUDITÓRIO ILÍDIO PINHO
Sunrise: a Song of Two Humans
de F.W. Murnau
Estados-Unidos, 1927, 94'
Um homem do campo, seduzido por uma mulher da cidade, pensa em assassinar a sua esposa. Arrependido, é na cidade que vai reconquistar o amor da sua vida. Sunrise é considerado um dos mais belos filmes do mundo, um hino ao amor e à luz.
* Sessão seguida de conversa com Yohei Yamakado e João Pedro Amorim